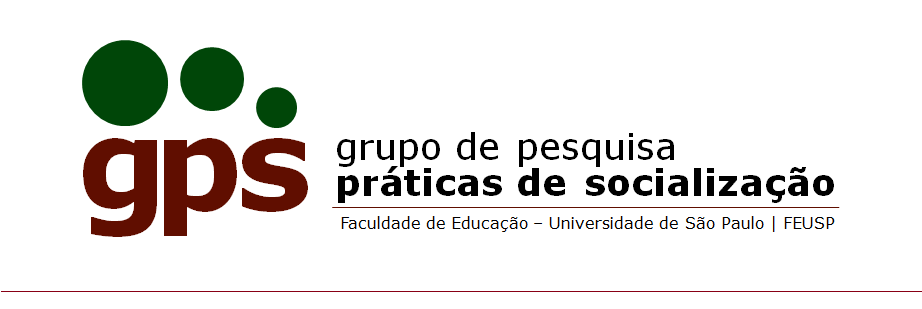Navegue pelas seções
segunda-feira, 4 de maio de 2009
Cine debate hoje às 17h
Logo depois, às 19h30 está prevista a palestra "Mundialização e Cultura".
Prof. Renato Ortiz – IFCH – UNICAMP
Entre outros livros autor de A moderna Tradição Brasileira, Mundialização e Cultura, O próximo e o distante, todos da Ed. Brasiliense.
terça-feira, 28 de abril de 2009
Seminário Mídia e Educação: Confira os próximos encontros!
Confira as palestras programadas.
Os encontros são sempre no auditório FE-USP às 19:30hs.
04 de maio – Mundialização e Cultura
Palestra – Prof. Renato Ortiz – IFCH – UNICAMP
Entre outros livros autor de – A moderna Tradição Brasileira, Mundialização e Cultura, O próximo e o distante, todos da Ed. Brasiliense.
08 de junho – A Cibercultura
Palestra – Prof. André Lemos – Faculdade de Comunicação – UFBa.
Autor e organizador dos livros Cibercultura – tecnologia e vida social na sociedade contemporânea. Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2002 E Janelas do ciberespaço. – comunicação e cibercultura, Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2000.
22 de junho - Experiências de Educação a Distancia entre Educadores
Palestra Profa. Belmira Bueno – FE-USP
Coordenação – Profa. Maria da Graça Jacintho Setton
Seminário Mídia e Educação: Texto recomendado para a palestra do Prof. Renato Ortiz
O número da pasta é 17.
Certificados do Seminário Mídia e Educação
Os certificados serão concedidos mediante comprovação de presença, via lista que está sendo circulada nas palestras.
Teremos mais informações em breve.
quinta-feira, 26 de março de 2009
Texto da 1a palestra
Olá. O texto obrigatório para a primeira palestra, da professora Maria Celeste Mira, estará disponível no xerox a partir da 2a feira que vem. Peço desculpas pelos eventuais transtornos.
Um abraço!
Rodrigo.
quinta-feira, 5 de março de 2009
Texto obrigatório da profa. Graça para a aula 3
Maria da Graça Jacintho Setton
Para iniciar este capitulo seria importante esclarecer algumas idéias ou hipóteses que nortearão as próximas reflexões. Ou seja, para pensar as relações entre mídia e educação precisamos fazer algumas mediações e tomaremos como eixos para esta mediação as noções de cultura e socialização.
Primeiramente, a noção de cultura compreendida em seu sentido antropológico, como produto da atividade material e simbólica dos humanos; cultura como capacidade dos indivíduos de criar significados, potencial humano de interagir e comunicar-se a partir de símbolos. Segundo esta perspectiva, refletir sobre as mídias a partir do ponto de vista da educação é admiti-la enquanto produtora de cultura. É também admitir que a cultura das mídias, suas técnicas e conteúdos veiculados pelos programas de TV, pelas musicas que tocam no rádio, ou mensagens da Internet nas suas mais variadas formas, ajudam-nos, juntamente com valores produzidos e valorizados pela família, pela escola e pelo trabalho, a nos constituir enquanto sujeitos, indivíduos, cidadãos, com personalidade, vontade e subjetividade distintas.
Em síntese, conceber as mídias como matrizes de cultura é considerá-las enquanto sistemas de símbolos com linguagem própria, linguagem distinta das demais matrizes de cultura (imagem, som, texto, e a mistura de todos eles) que compõem o universo socializador do individuo contemporâneo.
No caso do Brasil, mais especificamente, desde os anos setenta, nossa sociedade vem convivendo com a realidade da cultura das mídias de maneira intensa e profunda. Pouco letrada e urbanizada, em algumas décadas, a população brasileira viu-se imersa em uma Terceira Cultura - a cultura da comunicação de massa - que se alimenta e sobrevive à custa dos valores de outras culturas como a de caráter nacional, religioso e escolar.
O conceito de mídia é abrangente e se refere aos meios de comunicação massivos dedicados, em geral, ao entretenimento, lazer e informação – rádio, televisão, jornal, revista, livro, fotografia e cinema. Além disso, engloba as mercadorias culturais com a divulgação de produtos e imagens e os meios eletrônicos de comunicação, ou seja, os jogos eletrônicos, os celulares, DVDs, CDs, a televisão a cabo ou via satélite e, por ultimo, os sistemas que agrupam a informática, a televisão e as telecomunicações – computadores e redes de comunicação.
Para compreender as mídias como matrizes de cultura propomos aproximar ainda as noções de educação e socialização. A socialização compreendida como um processo educativo que busca a transmissão, negociação e apropriação de uma série de saberes que ajudam na manutenção e ou transformação dos grupos e ou das sociedades.
Para facilitar a compreensão deste ponto de vista é possível afirmar que o processo de socialização pode ser pensado sob dois eixos. Podemos defini-lo, primeiramente, como processo de imposição de padrões e normas de conduta que visam modular nosso comportamento individual. Nesta primeira definição enfatizamos o processo de condicionamento e controle da sociedade sobre os indivíduos. Mas a socialização pode ser vista também como um processo que engloba um conjunto de experiências de aquisição de conhecimentos e aprendizados por parte de todos nós; experiências de reflexão sobre a imposição destes padrões de conduta e sua eventual interiorização. Ou seja, a imposição e a negociação dos valores sociais aprendidos no processo de socialização mostram o quanto este fenômeno é tenso e conflituoso.
Por exemplo, quantas vezes enquanto adultos não sofremos resistência de nossos filhos e alunos em aceitar passivamente nossas orientações. Isto se dá pelo fato de que o que queremos transmitir para os mais jovens reflete uma visão de mundo, expressa muitas vezes valores que acreditamos serem os mais corretos, mas que nossos alunos ou filhos não concordam. São estes valores expressos nas mensagens que nós como educadores tradicionais e, as mídias, como educadores da modernidade sistematicamente transmitimos. Para o bem ou para o mal as mídias transmitem mensagens contribuindo para a formação das identidades de todos. Elas e as escolas, ao mesmo tempo, como todas as outras instituições socializadoras, procuram valorizar ou condenar certos comportamentos e regras.
Podemos, pois concluir aqui que a socialização é uma dimensão da formação humana propiciada por instâncias produtoras de cultura e tem como tarefa primordial a transmissão de idéias e valores. Os sistemas educativos dos grupos, as estratégias e práticas de socialização daí decorrentes expressariam uma visão de mundo, seriam responsáveis pela difusão ou condenação de sistemas de valores comportamentais.
O conceito de cultura e a socialização na contemporaneidade midiática Fazendo um breve apanhado da história do conceito de cultura podemos afirmar que uma das primeiras utilizações desta noção está datada dos anos 1500 dc e remetia a idéia de cultivo ou cuidado de algum elemento tal como grãos e animais. Mais recentemente, vemos que o sentido da noção de cultura pretende alcançar o entendimento do cultivo da mente humana, remetendo à idéia de cuidado, atenção e esforço de um ser em processo de desenvolvimento.
Vale ressaltar ainda que a noção de cultura sempre carregou um forte viés elitista. Ou seja, durante muito tempo esta noção expressou uma idéia de desenvolvimento ou evolução, um salto de qualidade em relação a outros estágios anteriores de civilização ou cultura. Até hoje, não é difícil encontrar fortes vestígios destas representações entre nós. Por exemplo, quando classificamos algum sujeito como culto, queremos expressar uma idéia muito positiva sobre sua pessoa.
Só muito recentemente a noção de cultura assumiu o sentido de um processo ou produto, resultado de um esforço material e espiritual de indivíduos ou de grupos.
No entanto, para os interesses de nossa discussão propomos ir além; propomos pensar a noção de cultura a partir de seu contexto de formação. Isto é, consideramos necessário analisar as culturas, entre elas as culturas das mídias, como um estudo integrado das formas simbólicas - ações, objetos, moralidade, produções e linguagens da sociedade - que têm origem em processos historicamente específicos e socialmente datados; a cultura constitui-se de um universo de símbolos, são formas simbólicas produzidas, difundidas e consumidas pelos grupos. Neste sentido, o que estamos propondo é enfatizar os contextos sócio-históricos de produção das culturas.
É preciso dar ênfase ao caráter simbólico dos fenômenos culturais (eles expressam valores comportamentais e morais), mas precisamos alertar ainda para a necessidade de relacioná-los a contextos e processos histórica e socialmente marcados pela organização social dos grupos. Podemos perguntar, por exemplo, tal expressão cultural é específica de qual sociedade (brasileira ou norte-americana) ou civilização (oriental ou ocidental, capitalista ou socialista)?
Desta maneira, o que interessa salientar, é que ao fazer a análise dos fenômenos culturais da modernidade, por exemplo, um filme como Stuart Little, além de analisar seus personagens e discursos precisamos também contextualizar a sociedade em que ele foi produzido, o momento histórico e social específico de sua produção e difusão, e em seguida perguntar. Sobre qual sociedade estamos falando? Como ela se estrutura? Qual seu modelo de organização social?
Se estamos nos referindo às sociedades ocidentais e capitalistas estamos falando de uma cultura que é produzida em um contexto social hierarquizado, marcado por profundas diferenças sociais, com uma injusta distribuição de poder e privilégio. Esta perspectiva pode ser denominada como concepção estrutural de cultura. E, procedendo desta forma estamos fazendo uma análise sobre a cultura midiática enfatizando as condições sociais de produção destas mensagens, condições estas em que as relações de poder são um importante aspecto a se considerar.
Para esta visão os produtos culturais promovidos pelas mídias, ou promovidos por outras matrizes de cultura, podem expressar diferentes maneira de ver o mundo.
Compreender a cultura de nosso tempo, ou seja, a cultura midiática, portanto, pode ser uma pista para compreender a sociedade em que vivemos, compreender seus conflitos, lutas internas, jogos de interesses, medos e fantasias. Esta visão concebe toda expressão cultural das sociedades contemporâneas com a capacidade de fazer um diagnóstico da história de uma época e de uma sociedade. Por exemplo, várias novelas ou seriados são capazes de por em evidências conflitos identitários relativos ao preconceito racial e homossexual. Os filmes de terror expressam as dificuldades que temos em lidar com a morte e o sofrimento; ou mesmo as comédias provocam nosso riso quando exploram preconceitos ou estereótipos sociais criados pela sociedade em que vivemos.
Mas valeria um importante alerta. A concepção que propomos não considera que as mensagens veiculadas pela indústria midiática são por si mesmas construções ideológicas.
Segundo o Dicionário Houaiss, Ideologia refere-se ao conjunto de idéias presentes nos âmbitos teórico, cultural e institucional das sociedades que se caracteriza por ignorar a sua origem materialista nas necessidades e interesses inerentes às relações econômicas de produção e, portanto, termina por beneficiar as classes sociais dominantes. Pode ser entendida também como a totalidade das formas de consciência social, o que abrange os sistemas de idéias que legitima o poder econômico da classe dominante (ideologia burguesa) e o conjunto de idéias que expressam os interesses revolucionários de uma classe dominada (ideologia proletária). (Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, p. 1565, 2005. Consideramos que antes de generalizar as falas, imagens e discursos difundidos massivamente pela indústria da cultura como instrumentos ideológicos é preciso investigar o contexto da produção, é necessário observar as condições de difusão e recepção das mensagens, bem como o sentido/significado que estas assumem em determinadas circunstâncias.
A originalidade desta forma de conceber ideologia num contexto de comunicação massiva é detectar e analisar se o sentido construído e usado pelas formas simbólicas serve ou não para manter relações de poder sistematicamente assimétricas. Por exemplo, é muito raro encontrarmos em uma novela um empresário rico e poderoso que seja homossexual ou preto. É mais comum encontrarmos o contrário, ou seja, a cor da pele negra associada à idéia de bandidos ou empregados com baixa qualificação e os homossexuais nunca ocupando papel de destaque. Desta forma, a escolha dos personagens de ficção e suas características identitárias podem ou não reforçar relações assimétricas de poder.
Dito com outras palavras, no nosso entender são ideológicas apenas as mensagens que reforçam contextos e relações de poder tal como o exemplo dado anteriormente.
Estudar a ideologia dos bens culturais midiáticos é explicitar a conexão entre o sentido/significado mobilizado pelas mensagens midiáticas e as relações de dominação que este sentido mantém. Estudar a ideologia dos bens da cultura das mídias é estudar as maneiras como as formas simbólicas se entrecruzam com as relações de poder de uma dada sociedade reforçando ou criticando padrões comportamentais estabelecidos.
Além disso, acrescentaríamos que as mensagens ideológicas não sustentam apenas a dominação de classe. Para nós as relações de classe são apenas uma forma de dominação e subordinação, constituem apenas um eixo da desigualdade e da exploração das sociedades capitalistas; é preciso, pois não negligenciar, ou menosprezar, a importância das relações de poder entre os sexos, entre os grupos étnicos, entre os indivíduos e suas diferentes posições na hierarquia social.
Neste sentido a noção de cultura não pode se reduzir às manifestações de juízos de valor moral e, portanto manifestações abstratas das instituições e modelos de comportamento de uma formação social. É necessário ainda criar uma definição mais eficaz, uma definição que entenda a cultura enquanto processo que se realiza em condições sociais específicas..
Explicando melhor:
A produção cultural ou simbólica de uma sociedade, entre elas a midiática, a produção dos sentidos e opiniões acerca de um acontecimento político (é certo e ou errado um político roubar os cofres públicos), a produção das categorias do pensamento e do julgamento (o que é considerado bonito e o que e considerado feio) de cada um de nós estão diretamente relacionadas às nossas condições de trabalho, de estudo, de lazer, e principalmente de nossa origem familiar, etc..
A cultura, neste entendimento, não representa apenas os símbolos, a moral e as imagens de uma sociedade, como sua musica, seus ditados populares ou sua bandeira. A cultura é muito mais que isso pois expressa um conjunto de condições sociais de produção de sentidos e valores que ajudam na reprodução das relações entre os grupos, que auxiliam na transformação e na criação de novos e outros sentidos e valores.
Desta forma, as culturas e entre elas a cultura das mídias devem ser vistas enquanto processo; devem ser vistas nos atos de produção, nos atos que envolvem a divulgação e nos atos de promoção das mensagens, bem como nos atos de recepção daquilo que é produzido. Vejam bem são quatro etapas que se entrecruzam para realizar o fenômeno da criação da cultura midiática.
A cultura não se reduziria aos objetos, símbolos morais ou bens materiais de uma sociedade, mas se apresentaria também como resultado das diferenças de sentido ou diferenças de usos entre os diversos indivíduos que a produzem e a consomem.
É fácil compreender esta proposta se pensarmos um produto cultural que todos têm acesso como as novelas. Os jovens com origem social mais favorecida e mais escolarizados se interessam pelas novelas, como entretenimento enquanto os outros jovens de origem popular quase não assistem novela pois à noite estão na escola e durante o dia estão no trabalho; mesmo entre os jovens de camadas populares que assistem a novela podem ali ter acesso a valores até então desconhecidos e, se apropriar deles a partir de suas bagagens culturais anteriores. Ou seja, o mesmo produto da indústria da cultura da televisão – a novela - terá um uso diferenciado entre os jovens; a forma como os diferentes jovens aproveitarão este entretenimento será distinta e, portanto, as condições de produção de sentidos de cada um será conseqüentemente diferente.
Em síntese, indo além do sentido antropológico do termo, ou seja, um sistema de valores e normas de comportamento que orientam a prática humana, nossa concepção de cultura revela um papel central na nossa existência cotidiana, pois está presente nas condições do processo de construção de nosso pensamento (valores abstratos), de nossa ação (comportamentos visíveis) e, no processo de relação com os nossos semelhantes valorizando ou condenando práticas de cultura.
Valeria terminar esta discussão perguntando:
Qual a importância em saber o papel que a cultura desempenha na construção de nossas visões de mundo? Porque existiria tanta gente discutindo sobre a importância do controle da veiculação dos produtos culturais midiáticos?
Ou mais precisamente, porque muita gente se refere à emissora Globo de TV como muito poderosa?
Enfim, qual a importância da cultura midiática nas relações sociais e nos processos socializadores da modernidade?
A cultura enquanto forma de linguagem, mediadora e produtora de sentido/significado, é responsável pelos consensos de valores e comportamentos das sociedades; conseqüentemente, a cultura como organizadora do mundo serve como reguladora das nossas mentes.
A cultura, segundo esta perspectiva:
A) oferece um código, oferece um conjunto de símbolos como a linguagem (um som e uma palavra que se correspondem e que remetem a um significado, por exemplo, homem e mulher).
B) esta mesma linguagem possibilita a comunicação e a integração de todos os indivíduos de uma sociedade pelos sentidos (o que é considerado pertinente para o sexo masculino e o que considerado condenável para o sexo feminino, por exemplo)
C) esta mesma organização de sentidos oferece simultaneamente a capacidade de organizar o mundo segundo um ponto de vista, classifica aqueles significados de homem e mulher a partir de uma visão de mundo (um mundo machista ou um mundo em que homens e mulheres têm liberdade de expressar suas idéias diferente daquelas que todos comungam)
D) e, muitas vezes, este sistema simbólico possibilita a integração social a partir de visões ideológicas da sociedade (é sabido que os homens mesmo possuindo o mesmo nível de escolaridade que as mulheres ocupam posições melhor remuneradas no mercado de trabalho)
É então por este motivo que justificamos compreender como são feitas estas relações de sentido propostas pelas mídias. Em favor de quem e de quê elas estão? Estas preocupações em relação à dimensão cultural ocorrem porque a cultura, enquanto um sistema simbólico, é um veículo de sentido.
A cultura mediatiza uma idéia, um sistema de idéias, ela oferece um discurso que cria os sentidos e as verdades. Em outras palavras, os sentidos, ou os mediadores dos sentidos, entre eles as mídias e suas celebridades, os discursos dotados de sentido que as mídias difundem são importantes politicamente porque expressam uma idéia, um posicionamento.
Em segundo lugar, nesta perspectiva o discurso que conseguir maior visibilidade será o que obterá mais adeptos. O significado dos discursos não surge das coisas em si, mas dos jogos de linguagem e dos sistemas de classificação nos quais as coisas são e estão inseridas.
Neste sentido, os discursos e os significados veiculados por mais esta instância de socialização dos sentidos têm o potencial de modelar nossas práticas, podem orientar nossas condutas e, ao mesmo tempo, justificar projetos e interesses de outros.
Mas valeria perguntar de novo: Porque é importante saber quem controla a produção de sentidos?
Já respondemos de uma certa forma esta questão. A importância de saber quem tem acesso ao controle das mensagens culturais é porque a cultura tem a capacidade de organizar e classificar os nossos pensamentos. Assim ela oferece os pontos de apoio e de orientação para os nossos comportamentos.
A cultura e o processo de sua transmissão, portanto possuem uma profunda relação com o poder de governar nossas vidas.As formulações de sentido relativas ao comportamento dos homens e das mulheres veiculadas pelas mídias, por exemplo, podem influenciar as nossas maneiras de valorizar ou condenar estes mesmos comportamentos, ajudando a mudar ou a conservar seus sentidos.
Nossas condutas e nossas ações podem ser valorizadas ou condenadas, moldadas e, desta forma, reguladas a partir de normas e regras difundidas pelas matrizes de cultura.
Uma vez que a cultura (e a sua produção de significados) regula as práticas e condutas sociais, é importante saber quem a regula.
O ritmo e a circularidade da cultura das mídias e o processo socializador
Valeria perguntarmos ainda: como as questões relativas ao ritmo da cultura das mídias interferem nas estratégias educativas e no processo socializador? Como esta discussão contribui para pensar as questões educativas de nosso tempo? Ou mais objetivamente, como esta discussão colabora para a formação do jovem e do educador contemporâneo?
Cremos, que fundamentalmente, a importância desta nova forma de produção de cultura pelas mídias encontra-se nos aspectos relativos às estratégias de formação das gerações atuais e futuras. Dito de outra forma, a rapidez e a simultaneidade da difusão de informações transformaram as formas de aprendizado formal e informal de todos nós; a maior circularidade da informação exige, pois uma nova forma de pensar sobre os processos de formação do homem da modernidade.
As maneiras pelas quais interagimos e nos adaptamos ao mundo, as maneiras pelas quais orientamos nossas práticas cotidianas, as formas de perceber o outro e a nós mesmos mudaram a partir da presença constante das mídias em nossas vidas. Por exemplo, hoje as crianças têm acesso desde muito pequenas a uma variedade de informações disponíveis nos desenhos animados, nas embalagens de produtos alimentícios ou na publicidade. Informações, apelos de consumo, modelos e estilos de vida veiculados pelas mensagens de uma indústria da cultura que compõem o imaginário e a vida prática de todos. Assim, no momento de uma compra ou no momento da escolha de uma revista em quadrinho (RQ) podemos ou não estar sendo influenciados pela publicidade ou pelos nossos amigos ou familiares.
É possível observar também a facilidade com que as novas gerações manejam os suportes técnicos, como por exemplo, os controles remotos, maquinas fotográficas e recursos sofisticados do computador. A introdução precoce de uma série de instrumentos tecnológicos na vida da geração @ impõe necessariamente o desenvolvimento de uma diferente sensibilidade técnica dos jovens que nasceram a partir dos anos oitenta. A linguagem que se desenvolve nos jogos eletrônicos, a rapidez de manejo do instrumental, a agilidade mental e a capacidade de utilizar ao mesmo tempo o telefone celular, um Ipod, e uma conversa no Mesanger espanta os mais velhos enquanto soa bastante familiar entre eles. É notável como as noções de tempo e espaço mudam com a utilização constante dos meios modernos de comunicação.
Portanto, o que vemos são mudanças que começam na forma de ter acesso a estas mensagens, criá-las e recriá-las, isto é, mudanças nas condições técnicas de produção de cultura, mudanças que agem podendo influenciar nas formas de constituição do sujeito social moderno. Desde muito cedo a criança aprende a conviver e a conciliar uma variedade de informações e tecnologias passando a acumular conhecimentos vindos não só de seu ambiente próximo, pais, grupos de amigos e ou professores, mas, sobretudo apelos produzidos pelas mídias. Por isso, é importante enfatizar que as informações e conhecimentos não são adquiridos unicamente nas relações face a face, com seus pais e professores, como era feito há mais ou menos 60 anos atrás. Estes novos conhecimentos são adquiridos de maneira não presencial, são adquiridos virtualmente a partir do uso freqüente das novas tecnologias.
Ou seja, o aprendizado das gerações atuais se realiza pela articulação dos ensinamentos das instituições tradicionais da educação – família e escola (entre outras) – com os ensinamentos das mensagens, recursos e linguagens midiáticas. A educação contemporânea está vivendo um conjunto de transformações que influenciam a natureza de nossas relações pessoais e sensibilidade e, conseqüentemente passam a condicionar as instituições que regulam nosso aprendizado, nossa formação cognitiva, afetiva, psicológica, portanto, nossas percepções sobre o mundo.
A materialidade da cultura midiática
Para concluir este capítulo é importante lembrar que a cultura não se refere apenas aos aspectos do mundo dos sentidos ou do simbólico. As transformações do mundo moderno implicaram em uma expansão da presença da cultura não só no imaginário como um sistema de símbolos e códigos, mas implica também numa série de instituições sociais, econômicas e financeiras que hoje tem a cultura como fonte de divisas e lucro. É preciso então ter em mente que falar de cultura hoje implica em vê-la não só em seus aspectos comunicativos, subjetivos e simbólicos etc., mas é preciso enxergá-la também em sua materialidade, em sua objetividade como um bem de mercado.
Isto não quer dizer que a expansão da cultura se dá apenas no sentido econômico. A expansão também se dá na rapidez com que as informações, os sistemas de sentidos e as idéias circulam.
Hoje é possível chamar atenção para o fato de que existe um processo de democratização dos sentidos e das informações. Todos têm virtual e teoricamente acesso a informação garantida pela variedade e diversidade dos veículos (TV, rádio, Cds, livros, fotos) e das mensagens (literatura, musicas, imagens) midiáticas.
Mas valeria uma última colocação. Estaríamos vivendo em um mundo em que a difusão e a rapidez da informação, em termos globais, levaria a todos a uma sociedade homogênea, ou seja, uma sociedade em que todos pensariam igualmente? Estaríamos vivendo sob o domínio e o interesse de uma grande máquina de sentidos que seriam as mídias? Ou diferenças locais, sociais, éticas etc. seriam os filtros de formas diferenciadas de recepção, apropriação e compreensão dos sentidos e valores propostos?
De nossa parte não cremos numa leitura apocalíptica sobre os destinos de nossas vidas. Em outras palavras, acreditamos nos processos de reapropriação e ressignificação dos sentidos e conteúdos da cultura das mídias. Os indivíduos que consomem os produtos das mídias não são passivos. Eles interpretam os conteúdos das mensagens a partir de uma bagagem de valores apreendidos em outras instancias socializadoras.
Síntese do capítulo
O objetivo deste capítulo foi chamar atenção para as transformações culturais e educacionais de nosso tempo. Principalmente mudanças relativas as diferentes instituições socializadoras que passam a fazer parte da nossa vida cotidiana e que influenciam a constituição de um novo homem, condicionam a forma como este homem pensa sobre si mesmo e sobre suas relações com seus semelhantes, bem como agem nas maneiras pelas quais este se orienta e constrói a realidade a que pertence.
O que nos propusemos fazer aqui foi problematizar também a afirmação de que a mídia é uma matriz de cultura. Ela produz significados, veicula sentidos e símbolos morais e sociais. Ela ao oferecer uma carga informativa tem a capacidade também de propor e ou impor significados. A cultura aqui é concebida com a capacidade de integrar, manter a comunicação, e, ao mesmo tempo, oferecer um corpo de categorias de pensamento e julgamento.
No entanto, os sistemas simbólicos, as matrizes de cultura, entre elas, a que mais nos interessa aqui, as mídias, podem servir como instrumentos de dominação. Por exemplo, a linguagem midiática, como parte integrante da cultura das mídias, pode ser mais do que um instrumento de comunicação e integração social. Pode ser um instrumento ideológico, ou em outras palavras, um instrumento de poder. Todos os atos comunicativos, tais como os discursos e as mensagens, não estão destinados apenas a serem compreendidos, decifrados enquanto entretenimento. São também signos a serem avaliados e às vezes seguidos como comportamentos a serem obedecidos. A linguagem, entre elas as das mídias, não são neutras. Neste sentido alertamos para a necessidade de se observar quem faz uso da comunicação midiática, de onde fala e quando fala. A autoridade dos sujeitos e ou das mensagens que têm o poder de se tornar visível pelas mídias são magicamente legitimadas. Portanto, não existem discursos ou mensagens neutros. Ao se conquistar o poder da fala e da imagem, impõem-se simultaneamente as categorias de percepção, impõem-se também a estrutura de um pensamento uma forma de perceber o mundo. Em síntese, este capítulo chama atenção para o caráter ideológico que a mensagem midiática pode assumir.
Neste sentido, a imposição do discurso daquele que tem o domínio da fala pode traduzir-se em um poder simbólico. Ou seja, o poder de inculcar valores e comportamentos, categorias do conhecimento do mundo, em outras palavras, o poder de impor uma visão de mundo, uma ideologia. Entendemos poder simbólico como um poder invisível que se oculta em nossas categorias do pensamento. Só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem ou não têm condições de saber que estão sujeitos a ele.
Desta maneira, o que interessa para nós salientar é que ao conceber a análise dos fenômenos culturais da modernidade contextualizando um momento histórico e social específico, implica em conceber esta cultura midiática sendo produzida em uma sociedade hierarquizada, marcada por profundas diferenças sociais, com uma injusta distribuição de poder e privilégio. A concepção estrutural de cultura propõe uma análise em que as relações de poder estejam presentes. Para esta visão os fenômenos culturais expressam também um terreno de disputa social. Compreender a cultura de nosso tempo é uma pista para compreender a sociedade em que vivemos, seus conflitos, lutas internas, jogos de interesses, medos e fantasias.
Como toda expressão cultural a cultura da mídia tem a capacidade de fazer um diagnóstico da história de uma época e de uma sociedade. É um documento histórico. A partir das análises de expressões culturais de nosso tempo podemos observar posições políticas e ideológicas conflitantes.
Segundo esta perspectiva, as produções culturais reiteram relações de poder como também podem fornecer elementos de uma resistência. Seja na ficção, na comédia ou nos noticiários a análise de cultura proposta aqui compreende os fenômenos culturais a partir da perspectiva das relações de poder. Para nós estas relações não se esgotam nas diferenças de ordem econômica, as diferenças de classe. Mas estende essas relações de poder a todo tipo de relação social que faz emergir diferenças e assimetrias entre os indivíduos. Neste sentido, sexo, etnia, cor, nacionalidade e religião podem ser instrumentos de poder. Podem, muitas vezes, contextualizar situações de diferença e por extensão de dominação social.
quarta-feira, 4 de março de 2009
Sobre os textos da aula 3 - 9 de março
Sobre os textos da leitura obrigatória da próxima aula
Thompson, J.B. (1995), O conceito de cultura. (encontra-se na pasta 17, no xerox)
Setton, M.G.J. Mídias: uma nova matriz de cultura. (será disponibilizado aqui no blog, em pdf, até o final do dia de hoje -- 4a feira)
Um abraço!
domingo, 1 de março de 2009
Aula 2 - 2 de março de 2009
Apresentação aula 2
Dia 02 de março 2009.
Não se trata de uma discussão sobre técnicas, mas sobre maneiras de se fazer ciência.
A metodologia é uma disciplina instrumental a serviço da pesquisa; nela toda questão técnica implica uma discussão teórica.
Objetivos da leitura – provocar a discussão de um olhar, estimular uma sensibilidade intelectual sobre um fenômeno.
Dois conceitos importantes – configuração e cultura de massa – cultura das mídias
Ambos remetem a um método investigativo de pensar as relações sociais – indivíduo e instituições.
O primeiro implica em uma perspectiva específica das relações e, o segundo, desdobra-se em uma postura crítica sobre conceitos há muito cristalizados.
O conceito de configuração aqui utilizado serve como um instrumento conceptual e didático que tem como intenção romper com a idéia de que as instituições socializadoras e seus agentes sejam antagônicos. Salientar a relação de interdependência das instâncias/agentes da socialização, condição para coexistirem enquanto configuração, é uma forma de afirmar que a relação estabelecida entre eles pode ser de aliados ou de adversários. Podem ser relações de continuidade ou de ruptura. Podem então determinar uma gama variada de experiências de socialização.
Pensar as relações entre a família, a escola e a mídia a partir do modelo de configuração é analisar estas instituições sociais em uma relação dinâmica criada pelo conjunto de seus integrantes, seus recursos e trajetórias particulares. No entanto, não é uma relação dinâmica entre subjetividades, mas uma dinâmica criada pela relação que esses sujeitos constroem na totalidade de suas ações e experiências, objetivas e subjetivas, que mantêm uns com os outros.
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009
Dúvidas
Rodrigo Ratier (rratier@gmail.com)
Michelle Prazeres (michelleprazeres@gmail.com)
O email da professora Graça é:
gracaset@usp.br
Cronograma e lista de leituras
Um abraço!
Rodrigo.
Última atualização: 27.02.2009
Cronograma
1 - 16 de fevereiro
Apresentação do curso e entrega do cronograma
2 - 02 de março - Metodologia de trabalho
Leituras Obrigatórias
a-) Setton, Maria da Graça. Família, escola e mídia: um campo com novas configurações. In Educação e Pesquisa, Revista da Faculdade de Educação da USP, vol28, n/01. Pp 107-116. 2002.
Clique aqui para abrir o arquivo em PDF.
b-) _____ A educação popular no Brasil: a cultura de massa. In Revista da USP- Dossiê TV, n/61, pp.58-77. 2004. Clique aqui para abrir o arquivo em PDF.
Bibliografia Complementar
Ortiz, Renato. Cultura, comunicação e massa. in Um outro território – ensaios sobre a mundialização. Ed. Olho D´agua. São Paulo. s/d.
Setton, M. da G. J . A socialização como fenômeno social total: notas introdutórias sobre a teoria do habitus. Anais da 310 Reunião Nacional da Anpocs, Caxambu, São Paulo. 2007.
___ Um novo capital cultural: pré-disposições e disposições à cultura informal nos segmentos com baixa escolaridade. In Educação e Sociedade, CEDES, Campinas, n.90, v. 26, pp-77-106. 2005. Clique aqui para abrir o arquivo em PDF.
Seminário – Michelle e Elias
Martins, Jose de Souza. As hesitações do moderno e as contradições da modernidade no Brasil. in A sociabilidade do homem simples. São Paulo, Editora Contexto. 2008.
Willians, R. Marxismo e Literatura. São Paulo, Ed. Brasiliense.
3 - 09 de março – Matriz de Cultura
Leituras Obrigatórias
Thompson, J.B. (1995), O conceito de cultura. in Ideologia e Cultura Moderna. Ed. Vozes. Petrópolis.
Setton, Maria da Graça. Mídias: uma nova matriz de cultura. In Educação e Mídia: um diálogo para educadores. São Paulo, Editora Contraponto, no prelo.
4 - 16 de março
Leituras Obrigatórias
Thompson, J.B. (1995), O conceito de cultura. in Ideologia e Cultura Moderna. Ed. Vozes. Petrópolis.
Bibliografia Complementar
Durham, Eunice Ribeiro, Cultura e Ideologia. in A dinâmica da cultura. Ed. Cosacnaify, São Paulo. 2004.
Hall, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções de nosso tempo. In Revista Educação e Realidade. Vol.22 – n/2. UFRS. 1997.
Ianni, Otavio. A sociedade global, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1992.
Ortiz, Renato. Cultura e Mega-sociedade mundial, in Lua Nova, n/28/29, São Paulo, Marco Zero/Cedec, 1992/93.
Seminário - Fernando
Thompson, J.B. O conceito de ideologia. in Ideologia e Cultura Moderna. Ed. Vozes. Petrópolis. 1995.
5 - 23 de março - Novos tempos no Brasil e no mundo
Leituras Obrigatórias
Giddens, A. As conseqüências da Modernidade. Ed. Unesp. São Paulo. 1991.
Partes Um e Dois.
6 - 30 de março
Leituras Obrigatórias
Giddens, A. As conseqüências da Modernidade. Ed. Unesp. São Paulo. 1991.
Partes Um e Dois.
Bibliografia Complementar
Giddens, A. O mundo em descontrole – o que a globalização está fazendo de nós. Rio de Janeiro, Ed. Record. 2000.
Baumann, Z. Comunidade, Rio de Janeiro. Zahar Editora, 2001.
Durhan, Eunice. Comunidade. In A dinâmica da Cultura. São Paulo, CosacNaify, 2004.
Simmel, George. A metrópole e a vida mental. In O fenômeno urbano. Rio de Janeiro. Ed. Zahar, 1980.
Lemos, Andre. Cibercultura – tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2007.
Lemos, André. Cibercultura – alguns pontos para compreender a nossa época.(falta referência)
Seminário – Danilo, Tatiane, Rodrigo
Ortiz, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1988.
Cardoso de Mello, João Manuel & Novais, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In Historia da Vida Provada no Brasil – contraste da intimidade contemporânea. Vol. 4, São Paulo, Companhia das Letras, 1998.
Sevcenko, Nicolau. Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso e A capital irradiante: técnica, ritmos e ritmos do Rio. In História da Vida Privada no Brasil – Republica: da Belle Époque à Era do Radio. Vol. 3, São Paulo, Companhia das Letras, 2004.
Garcia-Canclini, Nestor. Culturas Híbridas. Edusp, 1997.
Giddens, A., Beck, Ulrich, Lash Scott. Modernização Reflexiva – política, tradição e estética na ordem social contemporânea. São Paulo, Ed. Unesp, 1997.
06 de abril – feriado
7 - 13 de abril – Sociedade do Espetáculo
Auditório FE-USP 19:30hs (Aberta à comunidade USP)
Palestra – Profa. Maria Celeste Mira – Depto Antropologia – PUC-SP
Autora dos livros Circo eletrônico – Silvio Santos e o SBT (São Paulo, Ed. Olho D´Agua, Ed. Loyola, s/d.) e O leitor e a banca de revistas – a segmentação da cultura no século XX (São Paulo, Ed. Olho D´Agua, FAPESP, 2001).
Leitura indicada
MIRA, M. C. A escola na era do lazer. In: Teresinha Bernardo e Silvana Tótora. (Org.). Ciências Sociais na atualidade. Brasil: resistência e invenção. 01 ed. São Paulo: Paulus, 2004, v. , p. 251-270.
Bibliografia Complementar
Gabler, Neal. Vida – o filme. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
Campbell, Colin, A ética romântica o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro, Rocco, 2001.
20 de abril – feriado
8 - 27 de abril – Sociedade do Consumo
Auditório FE-USP 19:30hs (Aberta à comunidade USP)
Palestra - Profa. Maria Lucia Bueno - Presidente Programa de Pós- Graduação Moda, Cultura e Arte - Centro Universitário SENAC.
Autora e organizadora dos livros Artes Plásticas no Século XX – Modernidade e Globalização (Campinas, Ed. UNICAMP, 1999), e Cultura e consumo. Estilos de vida na contemporaneidade. (São Paulo: Editora do Senac, 2008, v.1)
Leitura Indicada
Featherstone, Mike. Teorias do Consumo e Para uma sociologia da cultura Pós-Moderna. In Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo, Nobel.
Bibliografia Complementar
Fontanelle, Isleide Arruda. O mundo de Ronald McDonald: sobre a marca publicitária e a sociedade midiática. In Revista Educação e Pesquisa, jan./jun, vol. 28, 01, PP.137-150. 2002. Clique aqui para abrir texto em PDF.
Steinberg, Shirley & Kincheloe, Joe. (org.) Cultura Infantil – a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 2001.
Von Feilitzen, Cecilia & Carlsson (org.) A criança e a mídia – imagem, educação participação. São Paulo, Cortez Ed, 2002.
McCracken, Grant. Cultura & Consumo. Rio de Janeiro, Ed. Mauad. 2003.
Douglas, Mary & Isherwood, Baron. O mundo dos bens – para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro, IFRJ, 2006.
9 - 04 de maio – Mundialização e Cultura
Cine Debate - Auditório FEUSP, horário a definir
Denise esta chamando – Hal Salwen – 1995, Canaá, 80min.
Nos que aqui estamos por vós esperamos – Marcelo Marzagão, 1999, Brasil, 75min
Auditório FE-USP 19:30hs (Aberta à comunidade USP)
Palestra – Prof. Renato Ortiz – IFCH – UNICAMP –
Autor dos livros A moderna Tradição Brasileira, Mundialização e Cultura, O próximo e o distante, todos da Ed. Brasiliense.
Leitura Indicada
Ortiz, Renato. Mundialização e Cultura. São Paulo, Ed. Brasiliense, 2006.
Bibliografia Complementar
Ortiz, Renato. O próximo e o distante. São Paulo, Ed.Brasiliense, 2000.
___.Mundialização: saberes e crenças. São Paulo Ed. Brasiliense. 2006.
Ianni, Otavio. Enigmas da modernidade mundo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
___. Futuros e utopias da Modernidade. In Revista Comunicação & Educação. ECA-USP, São Pulo, Ed. Segmento, ano VIII, set/dez/, pp17-25, 2001. Clique aqui para acessar o texto.
10 - 11 de maio – Escola de Frankfurt
Leituras Obrigatórias
Adorno, T.& Horkheimer, M. (1996), A indústria cultural. in Dialética do esclarecimento. Ed. Zahar. Rio de Janeiro, pp.113-156.
e/ou
Adorno, T.& Horkheimer, M. (1986), A indústria cultural. in Theodor Adorno. Coleção Grandes Cientistas Sociais, Ed. Atica. São Paulo, pp.92-99.
(Atenção: são duas versões do mesmo texto. A primeira, masi completa. A segunda, extraída de uma entrevista concedida por Adorno a uma rádio).
Bibliografia Complementar
Lima, Luis Costa. (org.) Teoria da Cultura de Massa, Rio de Janeiro, Ed. Saga, 1969.
Matellart, Armand & Matellart, Michèle. História das Teorias da Comunicação. São Paulo, Ed. Loyola, 1999.
Ortiz, Renato, A Escola de Frankfurt e a questão da cultura. In Revista Brasileira de Ciências Sociais, n/1, vol. 1, jun., PP.43-65, 1986. Clique aqui para acessar o texto.
Slater, Phil. Origem e Significado da Escola de Frankfurt. Rio de Janeiro, Ed. Zahar, s/d.
Seminário – Michelle e Rodrigo
Habermas, J. Técnica e Ciência enquanto Ideologia. In Benjamin, Habermas, Horkheimer, Adorno, São Paulo, Ed. Abril, 1975. (Coleção os Pensadores).
Benjamin, Walter (1983) “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” in Os Pensadores, Ed. Abril. Pp165-196.
11- 18 de maio - Amarrações
Auditório 16hs
Cine Debate – Tempos Modernos – Charles Chaplin – 1936 – EUA – 85min.
Matrix – The Wachowski Brothers – 1999, EUA
12 - 25 de maio – Estudo de Recepção
Leituras Obrigatórias
Martin-Barbero, Jesús, (1995), América Latina e os anos recentes: o estudo da recepção em comunicação social. In Sujeito, o lado oculto do receptor. (org.) Mauro Wilton de Souza. Ed. Brasiliense – ECA-USP. São Paulo.
Bibliografia Complementar
Martin-Barbero, Jesús. (1987-2003), Dos meios às mediações – comunicação, cultura e hegemonia. Ed.UFRJ, Rio de Janeiro.
Martin-Barbero, Jesús & REY, Germán (1999-2001) Os exercícios do ver – hegemonia audiovisual e ficção televisiva. Ed. Senac. São Paulo.
Matellart, Armand & Matellart, Michèle. História das Teorias da Comunicação. São Paulo, Ed. Loyola, 1999.
Seminário - Lisandra
Orozco, Guillermo. Uma pedagogia para os meios de comunicação. Revista Comunicação & Educação. São Paulo: ECA/USP/Moderna, n,12, maio/agoto, 1998.
Orozco, Guillermo, Professores e Meios de Comunicação: desafios e estereótipos. Revista Comunicação & Educação. São Paulo: ECA/USP/Moderna, n,10, 1997.
White, Robert A (1998), “Recepção: a abordagem dos estudos culturais” in Revista Educação e Comunicação, São Paulo, ECA/USP (12); 57 a 76, maio/agosto.
White, Robert A (1998), “Recepção: a abordagem dos estudos culturais” in Revista Educação e Comunicação, São Paulo, ECA/USP (13); 41 a 66, set/dez.
13 - 01 de junho – Cibercultura
Leituras Obrigatórias
Levy, Pierre. A Cibercultura. São Paulo, Ed. 34, 2008.
Bibliografia Complementar
Levy, Pierre. As tecnologias da inteligência o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo, Ed. 34, 2002.
__, O que é virtual. São Paulo, Ed. 34, 2007.
Negroponte, Nicolas, A Vida Digital. São Paulo, Ed. Companhia das Letras, 2006.
Lemos, André. & Palacios, Marcos. Janelas do ciberespaço. – comunicação e cibercultura, Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2000.
Seminário – Renato e Rodrigo
Lemos, Andre. Cibercultura – tecnologia e vida social na sociedade contemporânea. Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2002.
Lemos, André. Cibercultura e Mobilidade: a Era da Conexão. In Razon y Palabra. Revista Eletrônica em America Latina Especializada em Comunicación. Clique aqui para acessar o texto.
14- 08 de junho – A Cibercultura
Auditório FE-USP 19:30hs (Aberta à comunidade USP)
Palestra – Prof. André Lemos – Faculdade de Comunicação – UFBa.
Autor e organizador dos livros Cibercultura – tecnologia e vida social na sociedade contemporânea (Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2002) e Janelas do ciberespaço – comunicação e cibercultura (Porto Alegre, Ed. Sulinas, 2000).
Bibliografia Complementar
Costa, Rogério. A cultura digital. São Paulo, Publifolha, 2002.
Silveira, Sergio Amadeu. Exclusão digital – a miséria na era da informação. São Paulo, Editora Perseu Abramo, 2001.
Braga, Denise. Hipertexto: questões de produção e leitura. In Estudos Linguísticos XXXIV, p 756-761, 2005.
Soares, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. In Educação e Sociedade, Campinas, vol. 23, n 81, pp143-160, 2002. Clique aqui para abrir o texto em PDF.
Guimarães Junior, Mario José. A cibercultura e o surgimento de novas formas de sociabilidade. Clique aqui para abrir o texto.
Garbin, Elisabeth Maria. Cultur@s juvenis, identid@ades e Internet: questões atuais. In Revista Brasileira de Educação, maio/junho, n 23, 2003. Clique aqui para abrir o texto em PDF.
Freitas, Maria Tereza de A. Sites construídos por adolescentes: novos espaços de leitura /escrita e subjetivação. In Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n 65, p.87-101, 2005. Clique para abrir o texto em PDF.
Garcia-Canclini, Nestor. Diferentes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2007.
15 - 15 de junho - Amarrações
16 - 22 de junho - Experiências de Educação à Distancia entre Educadores
Auditório FE-USP 19:30hs (Aberta à comunidade USP)
Palestra Profa. Belmira Bueno
Leitura indicada
A definir.
Bibliografia Complementar
Moran, Jose Manuel. Como utilizar a Internet na educação. Clique aqui para acessar o texto.
Mattozo, Vania & Specialski, Elisabeth. O ciberespaço e as Redes de Computadores na construção do novo conhecimento. In Revista Brasileira de Informática na Educação – Numero 6- 2000. Clique aqui para acessar o texto.
Revista Educação e Pesquisa, Faculdade de Educação – USP – Seção Em Foco: Educação e Tecnologias. Volume 29, n/2, jun/dez, 2003. Clique aqui para acessar os textos da seção indicada.
Vermelho, Sonia & Areu, Graciela. Estado da Arte da área de Educação & Comunicação em periódicos brasileiros. Educação Sociedade, Campinas, vol, 26, n 93, p. 1413-1434, 2005. Clique aqui para abrir o texto em PDF.
17 - 29 de junho
Prova Final
Avaliação
Composta de 4 itens
a) Participação em sala de aula
b) freqüência a palestras e seminários
c) fichamentos dos textos indicados para leitura e três textos relativos aos seminários
d) prova final.
Roteiro de Leitura
Para garantir a compreensão dos textos indicados todos eles deverão passar por uma leitura cuidadosa. Assim, seria importante que o aluno seguisse estas sugestões.
1 – Leia todo o texto grifando as frases que considera essenciais
2 – Dê um nome a cada um dos parágrafos a fim de que eles expressem a idéia principal ali anunciada
3 – Faça uma síntese contendo
a) os objetivos do texto
b) o argumento do autor e
c) a sua conclusão
OBS: No início as sínteses serão longas, mas com a prática elas irão ficar mais precisas.